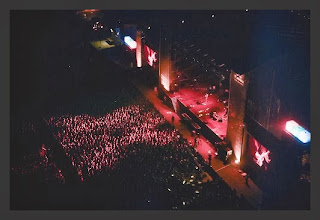À semelhança de anos anteriores, o ano que hoje termina, foi parco em discos marcantes, daqueles que vamos ouvir com quase igual assiduidade e idêntico entusiasmo no espaço de uma década. Neste particular, diria até, que foi um ano bastante pobre. E foi também um ano de desilusões, de gente que não conseguiu manter em álbum o nível que os pequenos formatos prometiam (olá Savages! olá King Krule!). Mas, por outro lado, foi recheado de discos com relativo interesse, portanto, bastante equilibrado em matéria de edições. Foi este o factor que dificultou a escolha dos álbuns preferidos dos ano, e que levou a que, de modo a criar injustiças irremediáveis, a lista do ano corrente seja aumentada em dez exemplares, dos trinta para os quarenta. É uma lista que reflecte os resultados variáveis dos vários regressos improváveis (mas desejados), num ano pródigo em finais de longos exílios. É também a mais ecléctica de todas as listas de fim de ano aqui publicadas, muito por culpa da crescente inspiração do mundo "electrónico", mas também do vigor da nova soul, ou até da renovação do hip-hop, depois de anos de estagnação. Senão, vejamos:
40 ÁLBUNS
- MAVIS STAPLES - One True Vine
- DEAN BLUNT - The Redeemer
- JULIA HOLTER - Loud City Song
- TIM HECKER - Virgins
- MIKAL CRONIN - MCII
- PARQUET COURTS - Light Up Gold
- THESE NEW PURITANS - Field Of Reeds
- PREFAB SPROUT - Crimson/Red
- MY BLOODY VALENTINE - m b v
- DEERHUNTER - Monomania
- BOARDS OF CANADA - Tomorrow's Harvest
- EDWYN COLLINS - Understated
- EARL SWEATSHIRT - Doris
- THE PASTELS - Slow Summits
- CHARLES BRADLEY - Victim Of Love
- ICEAGE - You're Nothing
- GROUPER - The Man Who Died In His Boat
- HOOKWORMS - Pearl Mystic
- SPEEDY ORTIZ - Major Arcana
- FOREST SWORDS - Engravings
- GRANT HART - The Argument
- SCOTT AND CHARLEN'S WEDDING - Any Port In A Storm
- SUPERCHUNK - I Hate Music
- JOANNA GRUESOME - Weird Sister
- THROWING MUSES - Purgatory/Paradise
- BROADCAST - Berberian Sound Studio
- RHYE - Woman
- WAXAHATCHEE - Cerulean Salt
- FAT WHITE FAMILY - Champagne Holocaust
- THEE OH SEES - Floating Coffin
- JULIAN COPE - Revolutionary Suicide
- PUBLIC SERVICE BROADCASTING - Inform - Educate - Entertain
- WIRE - Change Become Us
- DIRTY BEACHES - Drifters/Love Is The Devil
- PRIMAL SCREAM - More Light
- MERCHANDISE - Totale Nite
- MAZZY STAR - Season Of Your Day
- SCOUT NIBLETT - It´s Up To Emma
- VERONICA FALLS - Waiting For Something To Happen
- SEBADOH - Defend Yourself
10 SINGLES / EPs / MINI-ÁLBUNS
- DEAN WAREHAM - Emancipated Hearts
- THE CHILLS - Molten Gold
- BURIAL - Rival Dealer
- PARQUET COURTS - Tally All The Things That You Broke
- DEAN BLUNT - Stone Island
- KIDS ON A CRIME SPREE - Creep The Creeps
- INGA COPELAND - Don't Look Back, That's Not Where You're Going
- BEST COAST - Fade Away
- GIRLS NAMES - The Next Life
- ALEX CALDER - Time
10 REEDIÇÕES / COMPILAÇÕES
- SONGS: OHIA - The Magnolia Electric Co.
- BOBBY WOMACK - Everything's Gonna Be Alright: The American Singles 1967-76
- SHUGGIE OTIS - Inspiration Information / Wings Of Love
- THE THREE O'CLOCK - The Hidden World Revealed
- HONEY LTD. - The Complete LHI Recordings
- SEEFEEL - Quique
- TOY LOVE - Toy Love
- LEE FIELDS - Let's Talk It Over
- TEARS FOR FEARS - The Hurting
- THE BEATLES - On Air - Live At The BBC Volume 2
15 CONCERTOS
- MY BLOODY VALENTINE @ Primavera Sound, Barcelona/Porto - 25 Mai./01 Jun.
- BLUR @ Primavera Sound, Barcelona/Porto - 24/31 Mai.
- JULIA HOLTER @ Galeria Zé dos Bois Lisboa, 23 Jul.
- BULT TO SPILL @ Lux Frágil - Lisboa, 04 Set.
- SCOUT NIBLETT @ Teatro Maria Matos Lisboa, 09 Out.
- BOB MOULD @ Primavera Sound - Barcelona, 23 Mai.
- PARQUET COURTS @ Primavera Sound - Barcelona, 22 Mai.
- DEAN BLUNT @ Teatro Maria Matos Lisboa, 05 Nov.
- DEERHUNTER @ Primavera Sound - Barcelona, 25 Mai.
- COME @ Primavera Sound - Barcelona, 26 Mai.
- PIXIES @ Coliseu dos Recreios - Lisboa, 09 Nov.
- LOS PLANETAS @ Primavera Sound - Porto, 01 Jun.
- DINOSAUR JR. @ Primavera Sound - Porto, 01 Jun.
- METZ @ Primavera Sound - Porto, 01 Jun.
- SAVAGES @ Primavera Sound - Porto, 01 Jun.